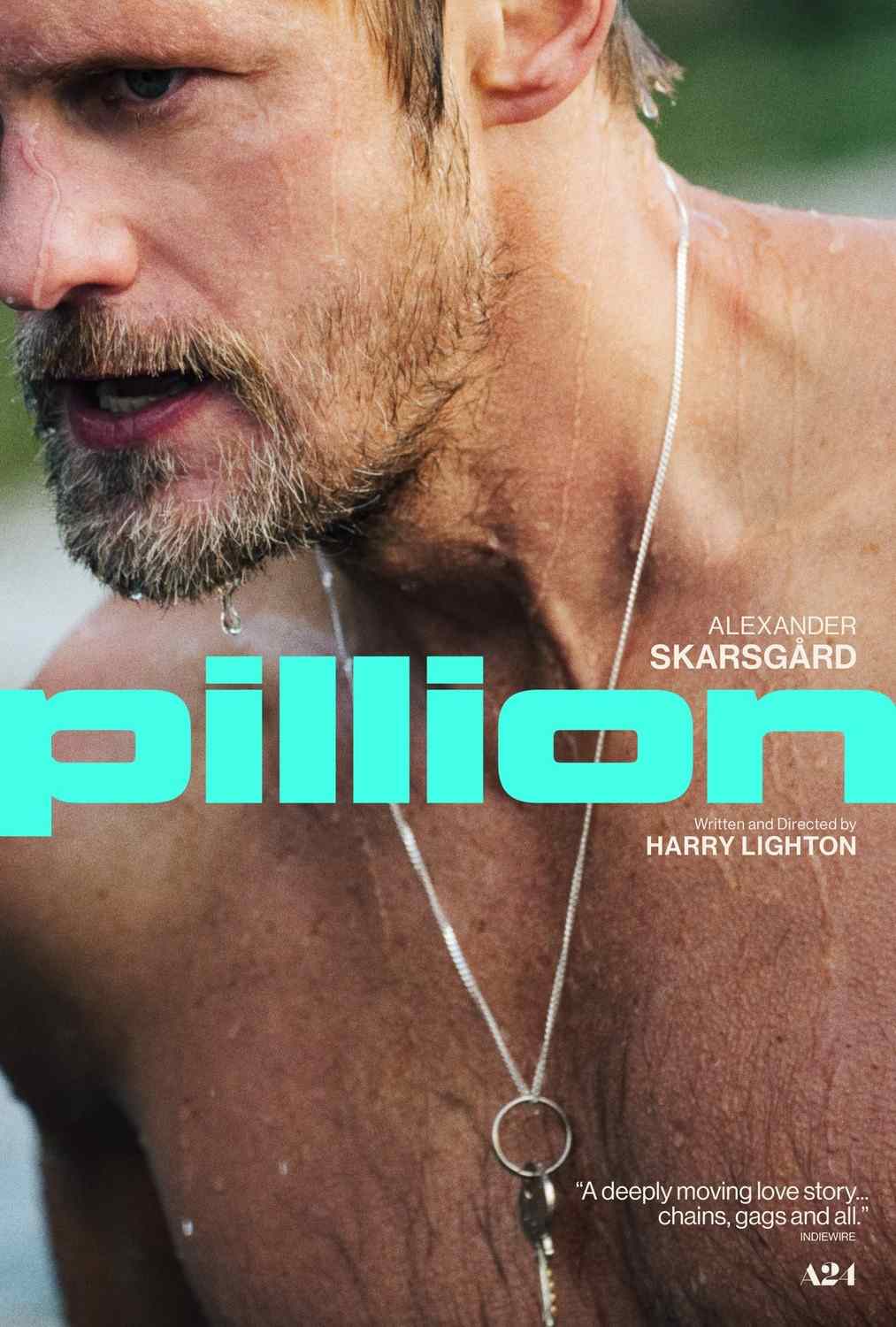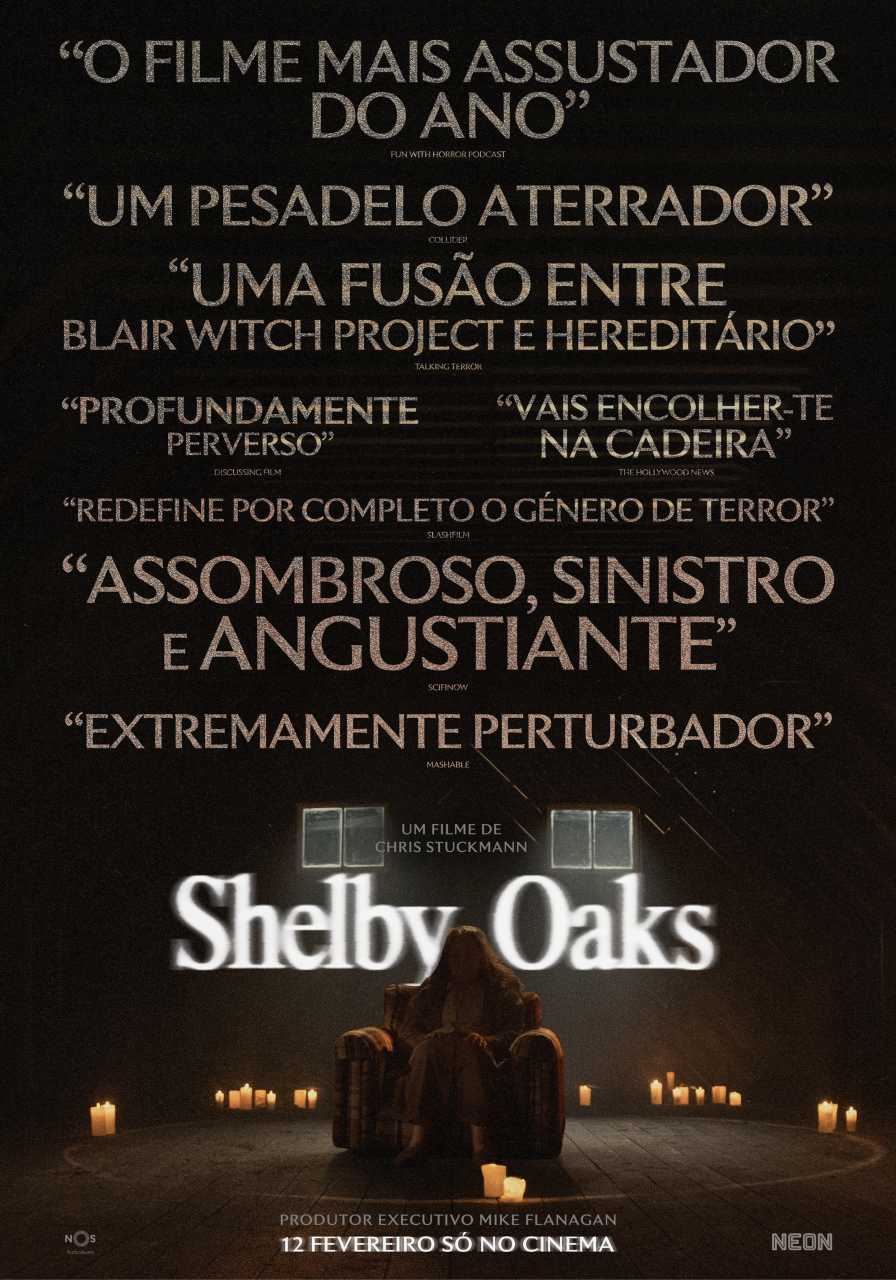Devo começar por confessar que não estou certo de ter entendido plenamente o que é este estranho objecto cinematográfico. «Se Eu Tivesse Pernas Dava-te um Pontapé / If I Had Legs I’d Kick You», realizado por Mary Bronstein, é uma das obras mais desconfortáveis e intelectualmente provocadoras do cinema recente e recusa qualquer forma de conciliação emocional com o espectador. O filme constrói-se a partir de uma experiência de saturação: saturação sensorial, afectiva e moral, que obriga quem assiste a permanecer dentro da subjectividade da protagonista sem possibilidade de um recuo crítico que permita um entendimento estável. Linda, interpretada por Rose Byrne numa das mais exigentes performances da sua carreira, não surge como figura exemplar nem como vítima redentora; é, antes, um corpo em tensão constante, um organismo emocional levado ao limite por uma conjugação de responsabilidades que já não conseguem ser metabolizadas.
A opção formal de Bronstein de manter a câmara colada ao rosto de Linda, bem como a decisão de ocultar quase totalmente a filha, estrutura o filme como um exercício de empatia forçada. O espectador não observa a situação: vive-a de dentro. A doença da criança, que exige alimentação por sonda e vigilância permanente, funciona menos como objecto narrativo do que como campo gravitacional que tudo deforma à sua volta. A casa, o trabalho, o casamento e até o tempo deixam de obedecer a uma lógica reconhecível. O mundo de Linda transforma-se num circuito fechado de tarefas urgentes, interrupções constantes e pequenos fracassos quotidianos que se acumulam até à asfixia. Nesse sentido, o filme aproxima-se das intuições que Freud expôs em “A Psicopatologia da Vida Quotidiana”: nas rotinas aparentemente banais emergem fissuras que revelam o desgaste psíquico e os conflitos interiores de uma existência levada ao limite, traduzidas aqui em episódios que oscilam entre o absurdo e a alucinação.

É neste contexto que o suposto humor do filme deve ser compreendido. Não se trata de humor como alívio nem como comentário distanciado, mas como subproduto do absurdo gerado pela pressão extrema. As situações vagamente “cómicas” — o episódio do hamster, os diálogos truncados com figuras secundárias incapazes de responder à intensidade emocional de Linda, os pequenos desastres domésticos — não funcionam como pausas narrativas, mas como intensificadores da sensação de descontrolo. O riso, quando surge, é nervoso, desconfortável, frequentemente seguido de culpa. Trata-se de um humor que não neutraliza o sofrimento; ao invés, torna-o mais reconhecível, porque nasce da familiaridade com situações limite em que a reacção emocional já não encontra forma socialmente aceitável de expressão.
O próprio título do filme condensa esta lógica. «Se Eu Tivesse Pernas Dava-te um Pontapé» é uma ameaça impossível, uma frase que já contém a sua própria frustração. Expressa raiva, mas também impotência; desejo de luta e consciência simultânea da incapacidade de agir. Esta ambiguidade é central para a compreensão da personagem de Linda e, mais amplamente, da visão que o filme propõe sobre a maternidade. A protagonista sente-se presa a um papel que exige disponibilidade absoluta, paciência infinita e auto-anulação moral, enquanto o mundo à sua volta continua a operar como se essas exigências fossem naturais e sustentáveis. A agressividade que emerge — contra o marido ausente, contra os profissionais de saúde, contra o sistema de expectativas sociais — nunca pode ser plenamente exteriorizada, porque a figura da mãe permanece culturalmente associada à abnegação e à contenção emocional. Bronstein não procura desmontar esta imagem através de discurso explícito; fá-lo por acumulação sensorial, mostrando o que acontece quando a repressão deixa de ser possível e o corpo começa a reagir de forma errática.

Nesse plano, a interpretação de Rose Byrne é decisiva. O seu trabalho não assenta em grandes explosões dramáticas, mas numa coreografia minuciosa de esgares, respirações alteradas, olhares perdidos e reacções desproporcionadas a estímulos banais. O espectador assiste à decomposição gradual de uma subjectividade funcional, não como espectáculo, mas como processo inevitável. A experiência torna-se quase física: mais do que compreender Linda, somos forçados a partilhar o seu esgotamento. O filme inscreve-se, assim, numa tradição de cinema que prefere a experiência à explicação e o mal-estar à catarse. Uma linhagem que tem sido explorada recentemente em obras como «Syk Pike / Doente de Mim Mesma» (Kristoffer Borgli, 2022) ou «Armand» (Halfdan Ullmann Tøndel, 2024), nas quais a normalidade social se revela frágil e a identidade feminina surge atravessada por mecanismos de pressão e de performance. A realizadora pega no tema da maternidade e amplia o seu campo de representação, interrogando os limites da empatia cinematográfica: até que ponto estamos dispostos a acompanhar uma personagem que não nos pede compreensão, mas que nos obriga a confrontar a “sacra” abnegação materna?
Contudo, importa reconhecer que a obra o faz a partir de um lugar social muito específico. Linda é uma mulher de classe média alta, integrada num contexto urbano, instruído e economicamente estável, num país do chamado primeiro mundo. Essa posição de partida condiciona inevitavelmente tanto a representação do sofrimento como os seus pontos cegos. A possibilidade de se dedicar quase em exclusivo ao cuidado da filha, o acesso a serviços médicos especializados e a existência de uma rede mínima de apoio revelam um privilégio estrutural que o filme raramente problematiza. O drama centra-se sobretudo na sobrecarga psicológica e na erosão da identidade pessoal, deixando quase fora de campo a dimensão material da sobrevivência: o medo de perder o emprego, a impossibilidade de pagar tratamentos ou a ausência de assistência pública.
Esta limitação não diminui a potência do filme, mas convida a lê-lo com distância crítica. «Se Eu Tivesse Pernas…» não oferece um retrato universal da maternidade; oferece antes o retrato rigoroso de um colapso particular, situado num contexto preciso de uma personagem difícil de se amar. O que nele se torna verdadeiramente inquietante é a percepção de que, mesmo num quadro relativamente protegido, a estrutura de expectativas que recai sobre a figura materna pode revelar-se insustentável. Bronstein entrega, assim, uma obra áspera e perturbadora, que confirma o poder do cinema enquanto espaço de questionamento das narrativas confortáveis sobre o cuidado e a família — um filme que não consola nem explica, mas que nos obriga a permanecer, sem fuga possível, diante do cansaço de uma mulher que está viva, mas já não tem forças para dar pontapés. Alive, but not kicking.
Título original: If I Had Legs I’d Kick You Realização: Mary Bronstein Elenco: Rose Byrne, Conan O’Brien, Danielle Macdonald, Christian Slater, A$AP Rocky Duração: 113 min. EUA, 2025